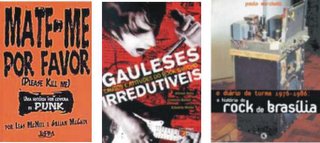O Adendo

Por volta das três da tarde parou na frente do flat em uma área nobre da cidade. Como ainda tinha algum tempo, foi até o orelhão. Discou o DDD. Do outro lado, em meio ao chiado, ouviu a voz embargada do pai. Respirou fundo e engolindo a emoção soltou:
“Sua benção, meu pai!”
“Jorge? É tu, menino?”
“O Senhor ta bom, pai?”
“Como Deus quer, meu filho. E que ele te abençoe. Ta frio por aí?”
“Ta um tiquinho, pai. O clima aqui é meio doido. Amanhece chovendo, de tarde faz sol. Ou o contrário”
“Lugar doido da peste!”
As notícias eram as de sempre. Seca, mais um sobrinho que nasceu ou está à caminho, um vizinho ou conhecido que morreu. Promete ao pai ir vê-lo em breve e responde afirmativamente quando este lhe pergunta se está dormindo bem. Diz que tem de desligar, pois tem uma reunião e volta a prometer encontra-lo em breve.
Alguns minutos depois toca a campainha do flat. Um rapaz moreno, corpo trabalhado, enrolado numa toalha, vem abrir a porta. Olha-o da cabeça aos pés.
“Pois não, amigo...”
“Marquei com D. Laura, às 15 horas.”
“Ah. Laurita, tem um sujeito te procurando aqui!
Laura aparece por detrás de uma porta sanfonada. Cabelos loiros, olhos castanhos muito claros que parecem faiscar ao ver Jorge ali em pé no meio da sala. Pede licença para vestir-se. O rapaz mostra a Jorge o sofá e senta-se ao seu lado enquanto pega um canudo fino e um espelho com algumas carreiras de pó. Oferece. “Carece não, agradecido. Fique à vontade”. O rapaz esfrega o nariz enquanto olha incrédulo e desconfiado para Jorge.
“Você é cana?”
Jorge ri, encabulado. “Sou não, moço”
“Terno bonito o seu. Vestido assim ou é cana ou é segurança.”
“Sou nem um nem outro não, seu moço...”
“Como você pergunta, hein, Renato? Vai cheirar essa porcaria lá dentro, vai!” A voz de Laura irrompe na sala e o rapaz moreno se atrapalha com o espelho na mão. Quase que simultaneamente, seu nariz começa a escorrer sangue. “Merda...” .Laura ri de Renato, um riso visivelmente sarcástico. Jorge está sem graça, as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Renato se retira e Laura vem sentar-se ao lado de Jorge.
Jorge conta a ela detalhes do serviço, a conversa anterior com Apriggio e arremata falando que a aquela altura a secretária já deve te-lo encontrado morto. Laura parece extasiada a cada detalhe do acontecido. “Maravilha. Você me saiu melhor que a encomenda”. Renato vem do quarto assustado. “Laurita, está passando na TV que...” O instrutor para no meio da sala. Olha para Laura, um sorriso despreocupado à espera do final da frase, e Jorge, a face sem emoções, o nariz achatado, ajeitando o paletó para esconder a barriga. “Ta passando o que, querido?”
“Caralho, foi você... vocês...puta que pariu! Isso vai dar merda! Isso vai dar merda!”
“Renato, eu disse pra você parar de cheirar essa porcaria. Está paranóico”
Jorge fica tenso, mas nada diz.
Laura se levanta, vai mansamente em direção ao amante e passa seus longos braços bronzeados artificialmente em torno do pescoço do jovem. “Era ele ou você, meu amor...” Renato treme convulsivamente e gagueja que não precisava ser daquele jeito. Laura enfia a mão pela toalha e diz a ele para ir buscar uma mala que está no closet. Renato dá as costas e volta ao quarto. A toalha cai no meio do caminho.
“Olha, eu espero que esse dinheiro seja de boa servetia a você. Dá pra você ajeitar sua vida, aqui ou fora do país. Você tem como sair do país? Tem passaporte?”
“Sei o que vou fazer ainda não...Vou pro norte de volta, acho. Penso nisso depois”
“Faça como quiser. Apenas suma. Renato, cadê essa mala, meu filho? O rapaz quer ir embora, tem condução pra pegar”
Laura vai em direção ao quarto e pega a toalha que Renato deixou cai pelo meio do caminho. Jorge ouve uma discussão. Atrás da porta sanfonada ouve nitidamente Renato chamar Laura de ’louca’. Ouve também as palavras ‘corno’ e ‘gorila’. A discussão cessa, mas sem que nenhum dos dois volte a sala. Jorge limpa o suor da testa, seu semblante torna-se pétreo, Ajeita as costas em posição de sentido, tal qual aprendera quando servira o exército.
Coldre, pistola, bolso, silenciador. Caminha silenciosamente até a porta sanfonada, ouve gemidos. Dentro do quarto, sobre uma cama de casal reversível, Laura está de costas para Renato, agarrada ao encosto da cama. Ao passo que o casal ensaia uma troca de posição, Jorge atinge Laura entre os seios, e em seguida, numa precisão olímpica, acerta Renato à dois metros de distância bem no céu da boca, aberta por obra do espanto e do pavor.
Desmonta o silenciador, guarda a pistola de volta no coldre. Acha a mala bem na entrada do closet e volta os olhos rapidamente para os dois corpos: Laura de bruços, Renato caído para trás, o membro ainda rígido. Ao passar pela sala, abre rapidamente a maleta.
Dólar.
“Ao menos isso...”.